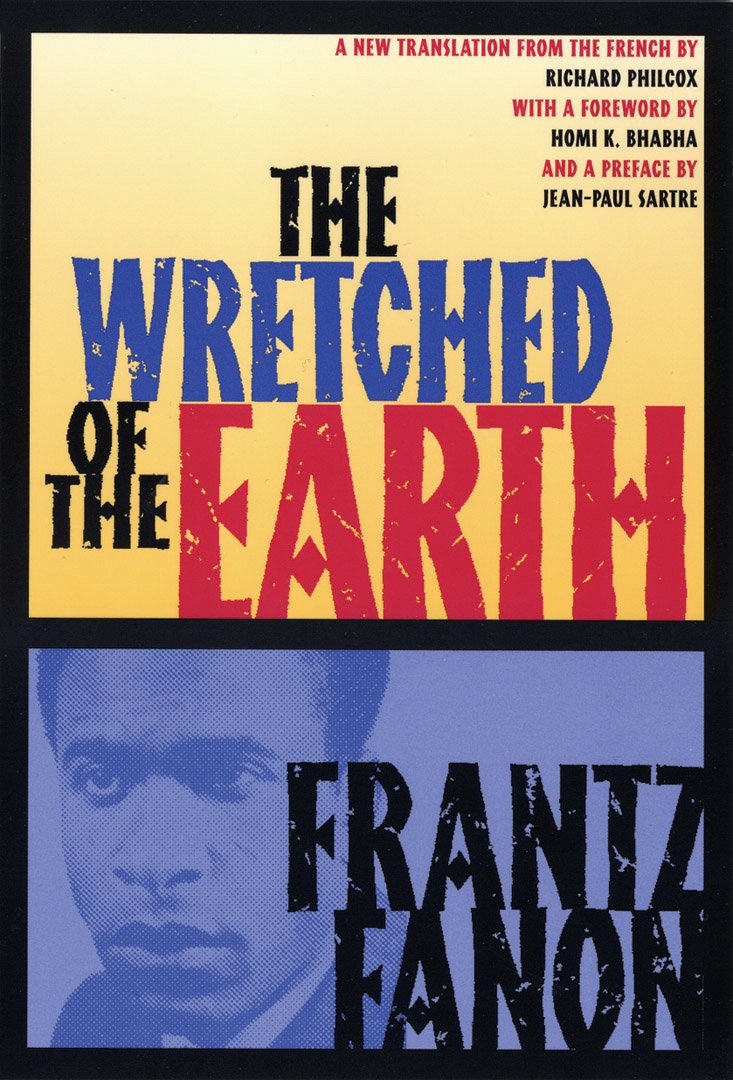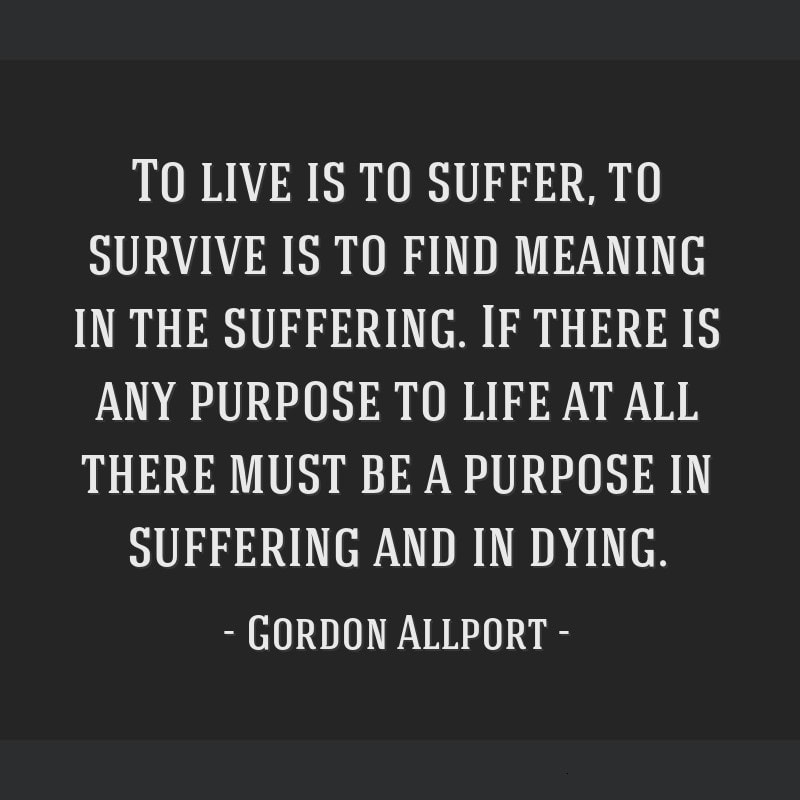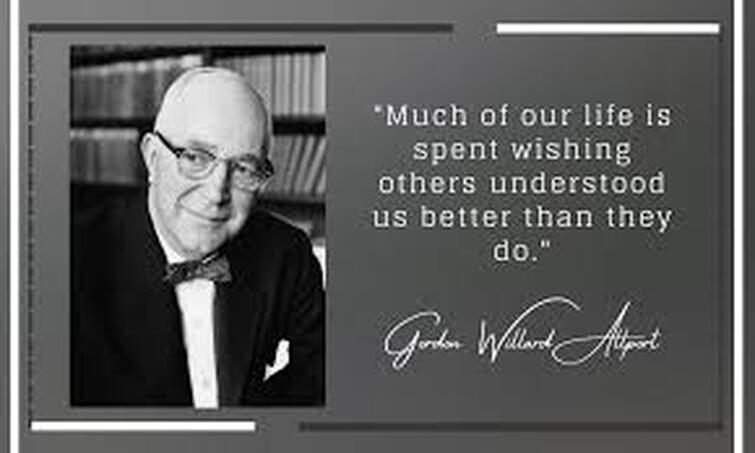|
Quando era pequeno, ia com a minha mãe às drogarias, e eu sabia que não podia fazer birra pelos carrinhos que olhavam para mim por entre as pequenas montras de vido, estrategicamente colocados em a cal, a ré, as picaretas e o betume, para vender aos filhos dos clientes, mais um bem de consumo. O orçamento familiar não esticava, e eventualmente eu habituara-me à ideia de certa carência nestes bens supérfluos. Uma indigência mitigada, até por um céu que me parecia então, mais azul do que o que vejo hoje. Eu e os meus irmãos partilhávamos os brinquedos e a tijela de sopa. Nunca passámos fome, mas também nunca desenvolvemos uma mentalidade desafogada, e naturalmente sedutora, porque liberta da sombra do constrangimento material. Quando chegou a altura de constituir família, 30 anos depois, a exigência material do necessário na epopeia de criar gente sob um tecto, decuplicara. As exigências mínimas subiram, eu nunca tive um carrinho de bebé onde me passeava, hoje é fundamental ter um carrinho de designer, oval e estiloso, de preferência com uma marca estampada e visível, Porsche, por exemplo. Hoje, tudo o que não obedeça a pormenores que me parecem fúteis, não chega para seduzir uma mulher de ‘qualidade’. Como se tendo um tipo, que provar continuamente, que é necessário trazer o bacon para casa, e trocá-lo por outros bens materiais, para provar o seu próprio valor. Curioso como a inflacção do útero trouxe a queda da natalidade e a catástrofe demográfica. E o suicídio galopante. Portugal está a desaparecer, mirra todos os dias enquanto mais um dos seus velhos e suicidas vai para enterrar e cremar. As gerações não se estão a regenerar, e em breve o colapso demográfico será total, uma vez que já é irreversível. Temos até, neste momento, um presidente que nos seus tempos de comentador, apelava à imigração de gente que viesse para trabalhar, pois iriam ajudar a pagar as nossas reformas. Os portugueses são o povo mais racista do mundo, odeiam portugueses. Sou técnico de frio e ar condicionado num instituto de estatística, e passo horas a falar com os investigadores, que adoram partilhar dados comigo, que os ouço sofregamente. Uns mais arrogantes porque sou um mero técnico, outros radiantes, porque alguém demonstra muito interesse pelo seu trabalho, um leigo. Sabem também, que se me derem tempo de antena e simpatia, serei sempre célere a supervisionar pessoalmente o seu conforto térmico, a pedido. Como está tudo automatizado, passo horas a observar as pessoas que passam pelo passeio pétreo junto ao estuário, e a tentar perceber as suas vidas. Saio do trabalho e vou para uma casa, onde a mulher olha para mim como se eu fosse a sua cruz a carregar, sente-se bem se virar para mim os holofotes das frustrações da sua vida, do falso sentimento de superioridade pelo seu curso de relações internacionais, que em lado nenhum lhe granjeou o sucesso que pensava vir a ter nesta vida entre as gentes. Os meus miúdos olham para mim como se fosse pouco mais que um burro de carga da liquidez bancária, desde que foram para a secundária, que se ressentem comigo por não lhes poder dar as roupas de marca, os tarifários ilimitados, os bilhetes para todos os concertos ocasionais. De amigos, passaram a olhar-me com desdém, e até eu fico ressentido comigo, pois imagino que a culpa só pode ser minha. Ela andou uns anos a ser comida por todos da Tuna universitária, onde ela fazia de questão de se fardar a rigor e percorrer a pé Lisboa para mostrar ao mundo que o ensino superior lhe comprovava uma diferente e excelsa natureza comparada com os demais. Acabado o curso, andou a ser comida nos vários empregos de escritório que arranjou, onde por vezes, a ascensão na carreira também ocorre na horizontal. Quando me conheceu disse logo «-Olha, não admito a ti ou a ninguém, que me julguem pelo meu passado. Descobri-me e ao meu corpo, e não tenho alguma vergonha disso.» Tive de me calar até hoje, por um vídeo dela que vazou para a internet, que me mandaram, onde estava na cama com 3 tipos, e com o cigarro preso nos dedos. Eu já a conhecia antes de a conhecer, e quando a conheci, não me lembrei de quem era. Só muito mais tarde associei o rosto e a diferença dos anos. De modo, que não a posso julgar, segundo ela diz, como se uns ditadorzecos de meia tijela viessem dizer às gentes o que fazer ou não fazer, polícias de merda, no serviço de censores, que vêm controlar o natural acto do juízo. Mas não julgo o quê? Por acaso não julgo um pedófilo ou assassino? Porque não haveria de criticar uma mulher de igual forma pelo seu comportamento? Ah, mas não julgas os homens pelo mesmo critério, se fodem muito são garanhões, e elas umas putas, seu machista. Eu não fodi muito. Uma ou 2 namoradas antes do curso, e uma depois, que me largou antes de eu conhecer a minha mulher. Escrever ‘minha mulher’ é estranho, como que uma contradição nos termos. Mas quantos gajos fodem assim tanto? Os que fodem pouco não são julgados como inadequados? Como geeks sem virtudes sociais? Porque raio não se pode julgar opinativamente, uma mulher que foi a bicicleta da aldeia, viciada em oxitocina, em orgasmos e na validação da sua vida, de pila em pila? O geek, o indigente, esse ao menos é condenado à solidão pelos imbecis que o rodeiam. Já a gaja ‘empoderada’ toma as suas decisões e usa a vagina como bem entende. Uns condenados, outros com livre-arbítrio. Mas só julgamos uns, porque se tornou moda ideológica. Sou emancipada sexualmente. Não, és uma puta. Mas quem és tu para me julgares? Ninguém, mas posso sempre escolher que imagem formulo de ti, e tu és uma puta. Vai à merda. Vai tu. Comparar os homens que fodem muitas mulheres, é comparar a excepção com a regra. É bem mais fácil a promiscuidade através do Bumble e Tinder, para uma mulher mediocremente atraente, que para um homem elegante. A vulva como bilhete de passagem pela vida. Portanto, vês, comparar o acesso ao sexo, de mulheres e homens, é algo enviesado. Uma tipa com vibrador é vista com admiração, como alguém que toma conta de si, um tipo com artefacto semelhante, é apenas mais um que desce na escala social porque é percebido pelos outros, como alguém não amável, incapaz de seduzir. És uma puta. Não sou, tu é que odeias as mulheres. Não odeio, mas podia odiar. Todas as que fazem render o peixe da vulva, pernoitando em homens até que começam a perder o rigor da carne. De liana em liana, sempre atrás do coelho mágico da validação, dentro de uma cartola de onde, o coelho, nunca chega a sair, mas é de imediato, trocado por outro. Pelo caminho, escarros na nossa individualidade, tratados como preservativos velhos e decadentes ao Sol de Verão, lembrando já apenas, as actividades nocturnas de pares anónimos. Fico com impressão de que é mais fácil para elas, embora reconheça que não é fácil de todo. Têm uma janela limitada para fazer render o peixe e acertar na lotaria genética. Passamos a tratarmo-nos uns aos outros como res extensa, que desempenha uma peça teatral, nupcial. Obtido os corpos, as emoções, as distracções para o ego, outro reeditar da aventura pretérita. Estás a falar do quê? Do mercado da carne e de como vivemos as nossas guerras civis sob a cama do ‘amor’. Um fingimento infindável, para esconder o peso insustentável de sabermos que existe um fim, e que os pequenos prazeres apenas nos lembram dele. Por vezes os vigilantes do Instituto chamam-me para espreitar por detrás do vidro que nos permite ver quem está lá fora, mas não quem está dentro, alguma miúda que escolheu aquele poiso para ver o azul aquático defronte à sombra e trocar conversas. Vejo-as agarradas aos smartphones, encostadas nos vidros fumados do Instituto, a darem conversa no Whatsapp, a 2,3 ou mais ao mesmo tempo, como se fosse uma espécie de leilão onde se regateia as condições mais aprazíveis de um qualquer contracto que envolve a perda de tempo e de meios. Dou comigo a pensar nesta transacção, e na justiça da mesma, onde o amor, nelas se segue facilmente, após um ameaço de carne, uma promessa de beijo, um sorriso enigmático. O acesso ao prémio apenas decorrente da retribuição possível e contratualizada previamente. Somos todos condicionados a levar o melhor que podemos desta vida. Porque censurar as mulheres para usarem as armas que a Natureza lhes deu? Agora estás a falar melhor. Não, a minha questão é apenas ser justo. Coisa que desconheces por completo. Oh, lá está, vai à merda pá. Como pode haver justiça quando dizemos aos rapazes que têm de ser reverentes com as raparigas, e às raparigas ensinamos que o mundo é um lugar hostil particularmente para elas, e que esse lugar lhes deve tudo? Que podem ser astronautas, e não se devem conformar a ser meras técnicas de AVAC, que é para isso que servem os rapazes? Olho para a sanha consumidora desta gente que povoa as ruas com fraldas descartáveis, descartando o que era mais sustentável, e menos asseado, concordo, das fraldas de algodão? Como, será a história do consumo humano e obliteração deste planeta, a mera narrativa dos ciclos de paradas nupciais? A minha, lá está a estranheza de dizer ‘minha’, também me disse que a tinha de tratar como princesa, abrir-lhe as portas e pagar jantares. Só quando percebi que era a personagem do tal vídeo, é que me perguntei, quantos dos seus parceiros anteriores, haviam feito os truques e a humilhação que me exigira a mim. Na pandemia ela e os miúdos ficaram em casa, eu não pude. Todos os dias recebia o fel de horas passadas em isolamento, no final do dia ao chegar a casa após folgar por breves momentos as costas vergadas debaixo de um compressor que há muito devia ter sido substituído. Vinham as discussões, a culpabilização por uma vida abaixo de óptima cuja responsabilidade era minha. O som não parava de me atingir, enquanto acabava a sopa de pedra encostado à janela, espreitando a azáfama dos vizinhos, e invejando um ou outro que parecia ter na mulher uma amiga, e não uma proprietária. Toda a minha história até àquele ponto me parecia surreal, tão enterrado estava o meu espírito nas condições presentes. A minha infância, o Portugal dos anos 80 e 90, a juventude passada de mota, de bailarico para bailarico. Eu percebo porque ela me escolheu, pareceu-lhe o adequado, jogar pelo seguro com um tipo que seria, por certo, facilmente manobrável. Casámos com ela grávida de outro, e convenci-me de que era o preço a pagar por ter mulher, que é a moda corrente de não ligar à sua história e carácter, porque todas as mulheres são feitas de pompom. Nos primeiros dois anos foi submissa, ao terceiro, veio o nosso filho mais novo, que desde esse dia até hoje, me é lançado à cara nas discussões, como uma espécie de favor que ela me fez, para o qual nenhum pagamento é possível, senão uma gratidão infinda. No check up dos 50, descobri que era infértil de nascença, e foi a única vez que me embebedei e chorei, mas nada disse a ninguém, tão habituado estou a não ser quem sou, mas o que todos esperam que eu seja. Quando me lançava à cara que era a mãe dos meus filhos e que a devia respeitar, que abdicara de uma vida profissional gloriosa para ser mãe, isto é, para ser responsável por metade do seu código genético, eu fiquei olhando para ela mudo, apenas amargurado pela inexistência de motivo pelo qual eu percebesse merecer o quer que seja, que dela recebia. Como pode alguém assim odiar outro, com um desprezo tão agudo que lhe negue alguma humanidade? Eu, que raio fiz eu? Por ser pacato, neuro típico, dar-me bem com toda a gente? Lembro-me de ouvir o instrutor da tropa dizendo que não interessa sermos engraçados, mas cair em graça. Finalmente fazia sentido. Todo o sentido, eu era um dos despojados da terra. Despojado de virtudes sociais, e de encantos capitalizáveis em apreço. Era um condenado, afinal, condenado a ser o pasto da vida de outros. O princípio do fim da minha servidão voluntária, ocorreu com a promoção dela no novo trabalho. Passou a chefiar uma equipa, a responsabilidade subiu-lhe à cabeça, e fundou um novo grupo de amigas, com quem vivia por proxy. Do grupo de 6, duas eram presenças habituais nas discotecas do Oeste, sempre convidadas por email, para os acontecimentos do marketing, para as solicitações fáceis, que decorrem da simetria facial. Vivia por elas a fantasia de um tempo perdido, de glamour, de apreço insuflador do ego por via do fino trato de um gajo decente, cosmopolita, sofisticado. Boa parte deles descartava-las após o coito, com exactas leituras das suas personalidades. Com os anos as doses de atenção iam diminuindo, e a ressaca era preenchida com vinho e calças de ganga apertadas. As outras três eram casadas, mas sempre com aquele suspiro por se terem comprometido demasiado cedo. Viviam por proxy a vida das duas mais audazes, e tornavam-se cada vez menos gratas e fieis aos maridos. A minha mulher, engasgo-me de novo, vivia cada vez mais amargurada neste círculo. As solteiras desencaminhavam as casadas, e as casadas pressionavam os maridos a serem «melhores», aquele esforço especial de aplacar a deusa, que brande constantemente, a ameaça da ruptura. Homens prisioneiros do próprio desejo, que preferem fazer tudo, até abdicar de si próprios, para manter o mau sexo anual, o sexo contratual e institucional, onde ambos fecham os olhos e sonham estar com um outro qualquer. A zona de conforto exige aderência, e vão cedendo aos caprichos, fazendo e sendo como lhes dizem para ser. Eles, pobres diabos que desconhecem que ela, a deusa, quer que mudemos, mas depois é incapaz de nos amar, se mudamos. Havia ainda alguma esperança para mim, a reforma não estava longe e ainda havia tempo para eu deixar de maldizer a minha vida. Os que acediam aos caprichos delas, com medo de as perderem, acabavam invariavelmente por ficar sozinhos, encornados, humilhados, destratados. Não sem antes foder a vida de todos os outros à volta, pois as deusas mostravam umas às outras, o quanto conseguiam domesticar o pet lá de casa. Estabeleciam uma hierarquia entre si, sob o monte de esqueletos que compunham a espontaneidade perdida dos seus companheiros. Não as podemos amar pelo que são, nem são nossas, nunca. Quando dizemos que nos amamos, é porque é a nossa vez de fruir a sua intimidade.
0 Comments
2 Eu levava-lhe flores, que ela cheirava, e agradecia com um sorriso tão falso como o seu esforço em mascarar uma necessidade de que as suas parceiras no banco de jardim da escola, a vissem sendo cortejada por um menino bonito, mas pouco popular, naquele contexto. Espreitando por cima do meu ombro, mordia o canto do lábio inferior, enquanto Daniel, o badboy com cabelo à Duran Duran, passava no corredor atrás de mim, a caminho das aulas, com a confiança que um quociente alto de consideração social juvenil, faculta. Eu servia naturalmente, para exprimir valor por ser desejada, e assim definir-se na hierarquia das amigas. Mas apenas enquanto me sujeitasse a exprimir visivelmente o meu desejo por si, de modo a subir, como um balão de ar quente, o seu valor aos olhos da restante macacada. Para o resto fazia questão de mostrar o seu desagrado. Estava definido o meu papel, como oferenda aos pés da deusa. Eu não servia para companheiro da ninfeta, apenas como símbolo do seu valor aos olhos de quem lhe captava consideração. Vida difícil a dela, manter-me no anzol sacrificial, e manter-me à distância que o nojo exige...ao mesmo tempo. Ah, mas somos adolescentes, e não sabemos distinguir o cotovelo do piaçá naquelas idades, certo? A rejeição tem algo de social, os outros assistindo, a rejeição torna-se um qualquer recibo de invalidez, ao contrário do lixo. Diz-se que o lixo de um homem é o tesouro de outro, mas o rejeitado, é aos olhos de todos, alguém não passível de merecer amor. Ou beleza, que vai dar ao mesmo. Há uma espécie de coacção social em surdina, onde o pobre, de dons e/ou de meios, é sempre merecedor do castigo do desprezo. Que aprenda por si, esse pobre diabo, a resolver os dilemas da natureza, já que toda a gente acha que percebe como funciona o mundo. O pobre diabo, no fundo, lembra aos outros, a volatilidade do apreço dos demais, a forma como hoje somos bestiais e amanhã bestas. No fundo, sabemos em algum grau, que a nossa popularidade, decorre de uns quantos indicadores contextuais, e que vantagem ganha é para manter. Mas toda esta verve nunca curou o facto de ela ter combinado ir comigo ao cinema, e depois deixou-me à espera na paragem de autocarro. Indagando eu com os meus botões, que fizera eu, para merecer aquela gratuidade cruel. Quando somos culpados de algo, é fácil perceber o menos bom que nos acontece. O meu único mal não dependia de mim, era ser pobre e não popular. Um neurotípico. Alguém, com quem se ela fosse vista, lhe retiraria brilho no recreio da C+S de São João da Talha. Mas se não tinha intenção de sair comigo, porque havia respondido que sim ao meu pedido? Umas semanas mais tarde vi a sua boca na boca de outro, mais apreciado pelas personagens importantes (daquele microcosmos) que eu, um visitante de uma outra C+S qualquer dos arrabaldes lisboetas, cuja fama o antecedia. Decidira comigo, que se ela fingia que eu não existia, eu iria retribuir o favor. Os anos passam, vou para a tropa e depois entro para a faculdade. Sem dinheiro para um SEAT Marbella, usava e abusava do L12, do passe social, e num autocarro da Rodoviária Nacional, voltei a vê-la. Na busca do prémio mais popular, mais brilhante, andava agora com um tóne qualquer do Casal Ventoso, rumando entre concertos, dos Xutos, para os dos Ena pá 2000, que era o que estava na moda na altura, a par da imensa onda de heroína que assolava Lisboa. Ambos estavam cadavéricos, mas foi ele que morreu de overdose. Ela continuava a prostituir-se em Coina, para os pais não descobrirem de onde vinha o dinheiro, e os vizinhos a vergonha. Certo dia, eu vinha de boleia do trabalho que me pagava as propinas e vi-a de manhã pedindo boleia. Saí da boleia, fui ter com ela e jurei-lhe amor eterno. Pediu-me 30 euros. Desde que eu tivesse dinheiro, só a tinha de dividir com o dragão âmbar. Certo dia achou, que não era correcta a exploração a que me sujeitava, e colocou o braço magro e semelhante a uma página de braille, entre os meus boxers e só parou quando os meus gemidos pararam. Sacudiu a mão para a relva do jardim, onde previamente censurávamos a vida burguesa, e sem limpar bem a mão, sacou de um cigarro que acendeu. A ejaculação havia feito com que me decidisse a salvá-la, e consegui. Raptei-a para o Porto, onde não conhecia ninguém, e ia visitá-la todos os fins de semana ao centro de reabilitação. Queria apenas que ficasse boa, se bem que aquela punheta nunca me abandonasse a ideia. Eventualmente saiu, e engordou e recomeçou a estudar. Aprendi a não receber sequer um obrigado, e passado um ano, encontrámo-nos na Biblioteca Nacional, onde trocámos números que conduziram até a uma cama em Arroios, onde ela chorou e confidenciou que sempre se censurara por nunca me conseguir escolher, que pensar nisso a fazia sentir derrotada e imbecil. A cara dela mudara, bem como o seu corpo, tornara-se mais desejável, e com as solicitações, passou a ser fria, distante, e novamente cruel, comigo. Era convidada regular para programas televisivos, de onde o novo namorado era costumeiro. Ela adorava o brilho, a futilidade e a sensação de fazer algo importante, nem que fosse por momentos. Largou o curso e abraçou com todos os braços, a nova amiga cocaína. Certa vez tentou vender-me um time sharing, que era um dos seus expedientes para fazer dinheiro para o vício. Eu fiquei chocado e perguntei-lhe se sabia quem eu era. O que me dissera e o amor que trocáramos. Rebolava os olhos como se eu fosse um deficiente mental, por ter tal conversa. Convidei-a para ir ter comigo aos jardins de Belém às 3 da manhã, para lhe dar dinheiro. Ela nem desconfiou, só pensava no dinheiro. Quando me apercebi que ninguém passeava à beira do estuário, dei-lhe um soco violentíssimo no queixo, dissimulado por detrás de um plátano. Fiz a viagem calmamente até Castelo de Bode, e do corpo apenas mantive o braço que me masturbou, e que ainda hoje tenho debaixo da minha almofada. Comi-lhe o rosto para fazer para sempre parte de mim, e deixei-a afundar paredão abaixo, para todo o sempre castigada a não voltar a ver nada de brilhante, senão eu na sua memória de morta. 1 O meu filho não me fala. Crescemos longe um do outro, conhecendo-me de passagem nos fins-de-semana da sua vida, vendo-me quase sempre ou dormindo ou anestesiando-me em bebida…em casa ou nos dias de praia idos nas nossas vidas. O nosso casamento, vejo-o agora, não era senão um contracto na cabeça dela, encoberto para ambos. Eu pensava que o contracto era a troca de amor, o quer que isso signifique. Creio que a início, me amava por ficar bem na sua fantasia do mundo, do futuro, do que é suposto ser uma existência humana. Agora, despreza-me de todo, não conseguindo não o fazer, e sem saber porquê. Algo se perdeu, ou se transformou, no caminho e na tradução. A minha falta de amor-próprio sempre me impediu de não ver como inquestionável, a razão da escolha dela por mim. Como se quebrasse algum feitiço, ou se usando cogitação, de alguma forma me quebrasse a ilusão que me era tão querida, que me escolhia por mim. Que o muindo de alguma forma, me dava um afago, uma consolação, da sua falta de simpatia pessoal por mim, até ao momento. Finalmente, o meu navio chegara ao porto. As rejeições passadas, as crueldades e sacanices de gajas estúpidas de quem gostei, os descolhoamentos de gajos que interiorizam que uma mulher bonita no braço é uma prova de sucesso, e que por isso eu era um alvo de chacota, por quem ninguém se ralaria por ser gozado e rebaixado na consideração no mundo geral dos outros. Para um gajo baixinho e magrinho como eu, uma mulher bonita seria um porto de abrigo para o meu sentimento de inadequação, e para o despeito em surdina com que os outros nos tratam. Ao menos com namorada, os outros ficam sempre com a ideia de que há em mim um quid qualquer, passível de ser apreciado. Lembro-me dela, percorrendo a distância do centro cívico (onde nos viemos a conhecer) para a paragem do autocarro. Sempre agarrada ao telemóvel, por vezes gesticulando e falando em voz alta, com alguém que parecia ser pretendente do outro lado, e eu sonhava um dia ser esse alguém do outro lado da linha. Sempre solicitada, esbracejando o telemóvel no ar, sempre com aquele ar de quem tem de gerir ser o centro de atenção do universo em determinado ponto do momentum cósmico. Sempre bem vestida, com um rosto decidido de quem olha o horizonte com toda a confiança disponível. Um dia, no meu Opel Corsa GT, comprado com o dinheiro poupado no trabalho de fiel de armazém, senti-me confiante o suficiente, para lhe perguntar se queria boleia para casa, num cálculo inconsciente em que me vi como alguém com algo a dar em troca pela sua atenção. À saída do centro cívico, onde eu ia regularmente jogar bilhar, perguntei-lhe :«-Queres boleia?» Primeiro olhou para mim, depois para o carro, não tão comum nos idos anos 90. Olhou para mim, reconheceu-me da multidão que vira a caminho das aulas de francês no dito centro. Desligou rapidamente a chamada ao alguém do outro lado da linha. A boleia tornou-se regular, e descobrimos que os nossos pais eram oriundos da mesma aldeia. Antes da aproximação de sermos namorados, fez-me desempenhar um cortejamento complexo, com avanços e recuos, que visava menos a satisfação do desejo, que o estabelecer e reforçar, quem era o prémio na potencial relação. Estávamos em idade de mostrar o nosso estatuto de adultos e fazer o que todos fazem. A 3 ou 4 meses do casamento marcado, o seu comportamento comigo esfria, e quando falo com ela ao telefone, por vezes desliga rapidamente a chamada. Deixa de me ligar e atender as chamadas, e que precisa de pensar. Desmarco a cerimónia, mas 2 meses depois volta, extra doce, mendicante, e submissa de uma forma que eu não conhecera antes. O sexo torna-se uma promessa de exaltação futura, sem fim, sem tréguas, sem condições. Deduzi que havia voltado por causa da desilusão com a verdadeira selva do mercado da carne, que por contraste, me mostrara a seus olhos, melhor que todos os outros, mais de confiança, maduro, estereotipado. Concluí que as más experiências, ou a complexidade do espírito feminino a tinham feito regressar a mim, e o alívio de saber que afinal não pressentira as minhas fraquezas e se afastara por elas, fazia-me sentir mais calmo e menos amaldiçoado. Estava aliviado por me ter visto como a melhor escolha, e a potencial traição, ela não falava do período de nojo, não me impedia de ainda gostar dela. Casámos, e gradualmente, vai-me isolando dos meus amigos, com a minha colaboração. Justificava para mim, que é o caminho das coisas, focado apenas na minha família e na mulher com quem decidira passar a minha vida. O meu hobby de estofador, relegado para a garagem da nossa casa nova em comunhão de bens, os meus gostos pessoais num enclave afastado do centro da área não marginal do lugar familiar. O meu hobby, os meus amigos, retirados do meu centro de existência, por sacrifício com as suas ideias decorativas e o seu escritório de explicadora de francês. Fodemos quando lhe apetece, quando fazemos anos de casados, afinal o corpo é dela, e não a posso forçar. Aprendo a eliminar o desejo que me dava conteúdo, antes de a conhecer. O período de sexo farto do primeiro ano de casamento, desaparecera, e digo para mim, que foi pelo miúdo, que ela deixou de me foder apenas depois de engravidar. O que parece ser comum nas mulheres. Censuro-me por exigir-lhe que queira foder comigo, na frequência com que me apetece estar com a mulher que amo. Vivo a pensar que sou um cabrão, com ela que tanto se esforça na vida da casa, apesar de eu me sentir uma merda de homem quando ela está presente. Mas se calhar a mulher é também ela uma condenação do mundo, que aprendi a aceitar, como não estando a meu favor. O que calha bem, porque também não penso muito bem de mim próprio. Habituo-me a pensar que a vida é isto, e sei que no fim do mês, o meu ordenado compra por mais um mês, a sua tolerância, algum do seu placebo de apreço. Sou útil enquanto trouxer o bacon para casa, digo para mim repetidas vezes. Ao longo dos anos refinou a manipulação, e neste momento consegue dispensar palavras, modificando o seu ambiente, apenas com expressões faciais. O nosso filho, perto da idade adulta, e a promoção no trabalho dela, marcaram uma mudança mais profunda no seu desprezo que se acentuou. Deixara de precisar de mim. O miúdo criado, e com condições para comprar habitação própria, inventou que a traí e meteu os papeis para o divórcio. No tribunal, discutimos, e insatisfeita com o que a lei decidira, pergunta-me como posso fazer aquilo. Digo que nunca me amou, e que me sinto usado, despojado dos meus melhores anos, e que agora percebo que ela é uma má pessoa. Ela responde: «-Jaime, nunca saberás o quanto te amei, nem que o nosso filho não é teu.» Palavra do Amor, Ámen. A cerimónia, parece, era de caixão aberto. Ainda bem, porque velórios sem ver o morto de boca aberta e moedas nos olhos, soam sempre a falso. Como se alguém fingisse a sua morte, para passar a outra fase da vida, ou se libertar da gente que conheceu, e deseja um novo princípio. É assim para quem se reinventa, para quem está morto, para quem termina uma relação parecida com o amor. Elimina quase totalmente, ou pelo menos à distância de um braço, o outro. Nega-lhe o discurso, mantém à distância, evita falar sobre o assunto. Assume que para o outro, o assunto é igualmente resolvido. O outro, e toda a sua dimensão emocional, são reduzidos unilateralmente, a uma não existência, a uma não relevância, no sentido mundano de que a vida é assim, e há que lidar com isso como gente adulta. Que a gente adulta entende bem as coisas das aproximações e das rupturas, e que acima dos namoricos existe a ‘vida’ que é superior e mais séria do que os assuntos do ‘coração’. «-Oh pá, há muito peixe no mar, eu não verto lágrimas por ninguém. Não quer? Venha @ próxim@.» Merdas deste tipo, escutadas vezes sem conta, em silêncio, e sabendo perfeitamente que não passam de desculpas e defesas. Temos forçosamente de nos tornar menos sensíveis, de modo a poder viver, ou sobreviver aos impactos amorosos. Como alguém que trabalha no guichet de uma unidade de queimados, e lida diariamente com tragédias humanas, por mais que se insensibilize, acaba por ter de pagar sempre uma moeda ao barqueiro. Assim a sequência de bocas, seios, cabelos, operetas, fingimentos e assomos, que decorrem da procissão de pessoas de quem vamos gostando. Quanto mais nos deixamos cair no abismo do outro, menos nós nos vamos tornando, e vamos regressando ao ponto de não regresso da individuação, percebendo que pouco mais levamos desta vida que as relações que estabelecemos uns com os outros. Envolvam cama ou não. Toda a gente vive como se não fingisse. Se não fingisse ser uma urna com vários cadáveres dentro, como se o amor fosse um, e não múltiplo de acordo com cada indivíduo por quem nos apaixonámos. O amor Cristina, o amor Rosa, o amor Francisca…e por aí adiante. É mais fácil a ilusão de que o amor é nosso, e não um vírus contraído pela existência do outro que nos infectou com os seus fluídos, trejeitos e maneirismos, fazendo-nos cair em enamoramento por si…é mais fácil a ilusão de que o amor é nosso, e que como lanterna em palacete assombrado e às escuras, ligamos e desligamos o foco de luz de acordo com a divisão do imóvel. Cada pessoa da nossa necrologia é um amor distinto de todos os outros, cuja parecença é talvez envolver cama, e mesmo assim, ninguém é igual na vertical ou na horizontal. Foder é um traço de carácter, tão individual como o tipo de piadas que nos provocam reacção em forma de riso. Para necrófilos como eu, é sempre motivo de espanto, olhar para as pessoas depois de mim, e ficar encantado com a sua capacidade, frieza, despojamento, desligação. Porque, admito, eu sou incapaz. Mas lá está, eu dou-me bem em funerais. A calma do corpo inerte nos velórios, sossega-me porque sei que a alma já não sofre tanto, para onde quer que tenha ido. E atenção que este não é dos piores mundos, este o dos ‘vivos’. Ao morto apenas espera a paz eterna, sem consciência da mesma, nós é que temos de pairar por cá, até chegar a nossa vez, e morrermos de desespero, porque tudo aquilo em que acreditávamos, serviu, mas era totalmente falso. Não há escolha senão viver na mentira, e saber a verdade ao morrer. O defunto suicidara-se, portanto estava fodido, para os lados de Deus, que não tolera os conas que não aguentam. Então o Criador dá-te vida, e tu cospes fora, seu cabrão? Porque faz dóidói, seu cobarde? Segundo se cochichava na cercania do velório, o tipo comprara duas embalagens de comprimidos para dormir, que misturara na cerveja, com que andava a matar-se do covid a esta parte. Eu sei o que é isso, a vida a consumi-lo, como aranha que prende a presa, e vomita para dentro da mesma um ácido que a dissolve, até não sobrar mais nada senão a casca de uma anterior existência. Mais ou menos todos sabemos isso, nos velórios. Se o gajo ou gaja que se mataram, passaram horas a avaliar a sua vida, agarrados a uma lógica de avaliação da qual não se conseguem libertar. E de como essa lógica pode matar, sendo nossa dona. Geralmente, um amor qualquer, onde o indivíduo desejado, nos largou, nos tratou mal, e se ausentou, como se fôssemos pedaços de merda que se enxota com o pé, nas caminhadas que damos nos jardins. É uma lógica um tanto ou quanto fundamentalista, essa do aquele ou aquela, ou ninguém. Ou será que é outra coisa, que é a incapacidade de perceber, como é que alguém que amámos tanto, foi tão estúpid@ connosco? Como, no decurso monótono de cada vida, os lábios que nos beijaram, as mãos que nos acariciaram, as palavras que nos elevaram e prometeram imortalidade, nos dizem coisas más e feias, nos golpeiam e roubam, nos ferem e menorizam…quando tudo acaba e já nenhum interesse têm em nós. Sim, parece que é motivo de morte, este do lidar com a natureza infernal do amor quando acaba num dos lados. Ou melhor, do não saber lidar com a maldade, de quem nunca esperaríamos vir a estocada final. Especialmente quando o outro nos perdeu o respeito, saiba-se lá porquê, e nos trata com ressentimento, apenas porque não consegue encontrar na sua massa córnea motivos pelos quais nos continuar a ter apreço mínimo. O amante que rejeita, culpa o rejeitado pelo amor que já não consegue sentir. Se isto não é uma natureza infernal, não sei o que seja. O que magoa, não é o direito divino de o outro seguir a sua vida sem nós, ou de lhe acabar o amor ou utilidade percebida em nós. Não, o que magoa mesmo a sério, é a forma como sai propositadamente do seu caminho, para nos infligir dano. Como alguém que deita metade de uma sandes para o chão, mas se dá ao trabalho de a apanhar, escarrar para ela e voltar a deitar fora, desnecessariamente. Não bastou a saciedade e o desperdício, há que vingar, inutilizar de uma qualquer forma. O amor transformado em ódio, pois que outra coisa não é o desdém senão um ódio no purgatório, para não admitir que ainda se ama quem se sente já não conseguir amar? Ninguém tenta magoar, o outro por quem já nada se sente. Não, as putas, quando rejeitam, ainda nos amam. E a sua velhaquice, nada mais é, que a expressão de um amor que se extingue, a golpes de vontade, por o indivíduo saber que já não respeita ou pode amar, o rejeitado. Por isso tanto gajo cai no erro compreensível, de reverter a rejeição, sabendo em algum nível de consciência que há amor ainda no olhar de desprezo. A natureza mais alta das putas, talvez continue a amar pela eternidade fora, mas o seu corpo, a sua estupidez, levam a melhor de si, a temporalidade (ó puta não percas tempo com este gajo que não interessa ao menino Jesus) exerce o seu poder, e elas sentem no corpo que há que largar o lastro, outros melhores piscam olhos pelas esquinas. É o contraste de tratamento de quem amamos, é o contraste entre o período de enamoramento e de ruptura, que nos dissolve por dentro como vómito de aranha em mosca mumificada. Apanhados nas teias vezes suficientes, tornamo-nos com o tempo, de facto cápsulas ocas com a forma de alguém que fomos antes. Sem interior que nos sustente, é quando a vida nos esmaga. Engraçado como nos funerais, há sempre uma gradação no pesar nos rostos, aqueles que prestam uma última homenagem com a sua presença, em grupos de 2 ou 3, ou 4, onde eventualmente o pesar é amenizado pela companhia mútua, as carpideiras que gravitam em torno do familiar mais pesaroso, os solitários, que tomam a homenagem como assunto entre si e o morto, os equilibrados, que têm tristeza no rosto, mas aceitam bem e ostensivamente, que a morte faz parte da vida. Caberá aos familiares, dividir os seus livros, limpar a sua cama imunda de papel higiénico seco e amarelecido com ejaculações múltiplas, dar baixa do seguro do carro, cancelar a subscrição da colecção ‘Cem anos de fado’. A homenagem que prestamos ao morto, não é a ele, mas à sua memória em nós, tal como o contraste entre as ‘putas’ e as amadas, mais não é que o resquício de um amor incondicional que sentimos outrora. Lá está, se fôssemos indiferentes, não falaríamos nisso. Saio do recinto e vou ver por uma última vez, algumas por quem este meu choque amaricado, me causa mais estranheza. Aquela que dava pontapés na atmosfera, sob um robe rosa, como se fosse um sinal de maluqueira, daquela que ela concebia como agradável e inesquecível para os homens. De como me chupava a pila de olhos fechados ou quando os abria, falava com ela, como se fosse uma amiga a quem se contam segredos. Mas de como a desviava como se a mesma tivesse peçonha, na hora de me vir, coisa que nunca acontecia por mais punhetas que me batesse, ou tentasse bater. «-Mas olha, e tu não me fazes minetes?» E eu respondia, «-Mas que caralho de insistência é essa, eu porventura peço-te para me chupares a pila?» Aquela merda soava-me a algo relacionado com poder e ascendente sobre mim. Não uma adesão lúbrica ao descontrolo sensual, uma tesão por mim…não. Soava mais a um chupa-me a cona que gosto de ser chupada, seja por ti, seja por outro qualquer. Ou um, se não me chupas a conaça, é porque não gostas de mim. O seu esforço para parecer respeitável aos meus olhos ia além do seu interesse na minha opinião dela. Era uma bula que exprimia a forma como queria ser tratada por mim, com a reverência prestada a um cardeal, de forma a reforçar a fantasia que tinha de si mesma. Eu tratando-a da forma x, confirmava a sua crença x. Pairando em torno dela, eu perguntava-me em que é que ela se achava superior, ou melhor que eu. Não era pessoa para passar um dia a foder, e a comer pizza e ouvir música dos anos 80, nas pausas. Eu era uma peça do seu puzzle, um adorno na sua vida. Adiante, um pouco mais a norte, visito outra, que se achava muito sofisticada devido às roupas de marca, devido a ter um ‘bom’ carro, devido a cumprir todos aqueles requisitos de sucesso que observava nas pobres de espírito iguais a ela, que a rodeavam no escritório de uma fabriqueta qualquer. Como se essa merda valesse alguma coisa no sítio para onde todos vamos. De como fazia recolha selectiva do lixo, apesar dos quilómetros gastos em gasóleo…afinal as pessoas têm de viver, em verniz de unhas, em cremes experimentados em legiões de animais inocentes. Os desejos de aumentar as mamas e sentir-se desejada por mais gente, de ácidos para eliminar manchas na pele, por vouchers de ginásios que prometem amenizar a decadência na firmeza da sua carne desperdiçada. Ocasionalmente vejo-a fugir com o rabo à seringa com a sua consciência, ela sabe – todas sabem – o quão puta foi comigo. Eh, eu não sou um anjo, mas faço ponto de honra não dar um motivo para que justifiquem de alguma forma, a canalhice que virão a fazer. Arrisco-me a passar por sonso, mas é só porque já sei o que a casa gasta. Ah, eu encornei-o porque já não falávamos e eu jogava Candy Crush e ele lia o site de «A Bola». Não, encornaste porque és uma puta. O resto são histórias que contas para pareceres bem. Das vezes que passei fome em casa dela onde morava com a mãe, porque a mãe sentia que não tinha de fazer jantar para mim, pois não ia alimentar nenhum marmanjão. Esta pequena burguesia lisboeta, que perdeu quase tudo no 25 de Abril, excepto a sua lógica mimada e filha da puta. A minha proletária mãe, nunca deixara a filha passar fome em minha casa. A filha, não habituada a ser tratada desinteressadamente, ia dizendo que era uma forma da minha mãe lhe ‘dar graxa’, por namorar comigo. A lógica do arrependimento não é para todos. O maior filho da puta, não se sente tal, se o seu compromisso ideológico lhe branquear todos os comportamentos, de igual forma que eu, o sensor censor, analiso quase tudo com o rigor de um deus tirânico. E afinal somos apenas humanos…não é? Ou então, aqueloutra que x, y, z… Percorrer os natais passados, pairando neles, só me fazia dissolver cada vez mais por dentro. Se calhar esta gente deficiente, tem razão, as coisas são para esquecer, e para se fingir sempre um começar de novo. Tenho de regressar, estão quase a fechar o caixão, e adoro a sensação dissolvente, da cal que irão lançar no meu rosto. 'The Corpse of Anna Fritz' - 2015 -aContraluz Films S.L., Benecé Produccions S.L., Cine de Garage, Corte y Confección de películas, Playtime Movies, Silendum Films - all rights reserved - fair use policyI Eu precisava do dinheiro. Fui fazer as ‘paragens’, os períodos em que as fábricas da Europa civilizada e protestante, param, para manutenção. O trabalho era sujo e duro, mas raios, recebia-se bem, e contornava-se o fisco católico. Tudo saíra ao contrário do que eu fantasiara. Queria sair de Portugal, para esquecer as portuguesas, e em especial, para a esquecer a ela, com os quilómetros avolumados entre nós. O primeiro dia foi de choque, na Bélgica, numa siderurgia qualquer, com água e óleo até à cintura desapertando porcas ferrugentas. Dava comigo a pensar, tanta pestana queimada em livros do circo e do cagalhão, e aqui está o arrogante de outrora, a fazer o trabalho que ninguém quer. Físico, sujo, desconsiderado. Valia o dinheiro ao fim do mês, despejado para cerveja que me fazia esquecer as várias situações próximas da morte, que me piscaram o olho. Eventualmente tive de planear vir-me embora, uma qualidade essencial para o trabalho, era ser engraxador do amo, e fingir-me de parvo. Após dois tugas a ameaçarem-me de porrada, disse ao patrão que queria evitar deslocar braços e maxilares em frente a estrangeiros, e que por isso queria que me comprasse o bilhete para Portugal. Um dos que confundira a minha amabilidade com ‘fraqueza’, despediu-se primeiro, e parece que me veio pedir desculpa. Quando veio ter comigo, pensei que viesse repetir a dose de verificação de que me podia oprimir para satisfação próxima. Teve a boa ideia de a dois metros de mim mostrar as mãos e dizer que me vinha dar umas luvas que tinha novas, para não haver desperdício das mesmas. Que tínhamos tido um desentendimento, que é normal, e que nada significava. Interpretei como pedido de desculpas, apertei-lhe a mão e deixei-o ir à sua vida. Na realidade o que acontecera é que ele andava fodido com a sua vida, e que num trabalho de força onde eu fazia a força, faltou-me ao respeito, e não as levou logo ali, porque estávamos a 8 metros de altura. O chefe do estaleiro, da Madalena, fez questão de me agradecer a postura e o ‘despromover’ por ter quase causado um 31 que faria os portugueses parecerem tipos de 3º mundo para franceses e belgas. Apesar de alguns trazerem garrafas de vinho nas bagagens, para subornar os operários gauleses que decidiam quem ficava e quem ia da siderurgia. Mesmo assim gostei, do trabalho pesado, do perder quase a vida diariamente, e do ensinar aos rejeitados da sociedade portuguesa, que quem conhece o processo de construção de uma pirâmide egípcia, pode ser útil a erguer um veio do sistema de arrefecimento, apenas com cintas circulares de nylon, sem o esforço inglório de 8 pares de braços. Parece que os meus cursos de Filosofia e Arqueologia, se tinham unido para ter alguma utilidade no mundo, além de desapertar porcas submerso em óleo. No meu último dia, todos me pediram para levar a carrinha de serviço, a um Sábado, para o bar de engate na beira de um lago «Étang du Pont Rouge». Carne velha dançando ao som de música velha francesa, pimba. A malta sabia que eu iria beber coca cola até ao fim da noite, pois estava desejoso de ir para casa sóbrio. Eu só bebia depois de sair do trabalho. E muito. Como não comia carne, deram-me a alcunha de ‘Bróculos’. Fiquei sóbrio, vendo-os tentar engatar tudo o que mexia. A minha tshirt era de viscose e tinha um leão bordado. A única loira na qual eu depositava esperanças de me levantar o Gervásio, andava entretida atrás dos hipertrofiados seguranças, que se reuniam a horas certas, em torno do dono do estaminé. Dona de casa ida, descobrira um penteado sexy, que a fazia desejável, e sendo da minha altura, alguém que prometia luta física. Pouca sorte dela, que ninguém a informara de que os seguranças eram todos gay, e pelas caretas de alguns, a tipa era bem conhecida das redondezas, até porque trabalhava numa clínica privada de saúde. Provavelmente largara o marido no seu grito de Ipiranga, e tentava realizar sonhos de adolescência através de excesso de proteína subcutânea na carne de outros. Eu vira as suas fotos numa rede social da zona, há uns anos atrás. Era uma neurotípica, que não se assumia como tal. Investira no aspecto, no penteado e no blusão de ganga, que esfregava na cara dos seguranças gay, que ostentavam tshirts brancas junto à pele. Intimidavam mais pelo número, que pelo volumoso porte atlético. De modo que pedi outra coca cola e informei a freguesia de que me ia meter no caralho, que estava cansado, e que engatassem francesas, agora ou nunca. Um coro de vais para o caralho acompanharam-me até ao WC aonde o excesso de coca cola me conduzia. O WC devia ter a minha largura de braços esticados, com o lavatório logo perto da porta, dois urinóis separados por uma laje de granito rosa, e o cagatório na extremidade oposta. Quem estivesse a obrar, se deixasse aporta aberta, conseguia ver a pista de dança. Escolhi o mijanário da direita, e logo de seguida entra um miúdo para aí com os seus 20 e tal anos. Estou entretido a mijar e a tentar perceber porque não tenho vontade de chorar pensando nela. O gajo mete conversa comigo, digo que falo melhor em ‘anglais’. Vou respondendo às perguntas, que me vai fazendo. Arranha algo como ‘vous éte três intéligent’ e aproxima-se até ao ponto que me tenta beijar na boca, ao que me desvio para trás. Vejo, de relance, na cara do tipo, que percebe que cometera um erro, que me lera mal. Tenho esta sina, todos me lêem mal. Uns para a porrada, outros para o amor. Encosto-me à parede e faço-o perceber que se se aproximar, fica a dormir no chão. Lavo as mãos, enquanto o oiço dizer ‘doucement, doucement’. Observa-me, porventura convencido de que todos os homens são paneleiros potenciais, até experimentarem pila, a partir da qual se tornam paneleiros efectivos e de pleno direito. Vou até à mesa, emborco o resto de coca cola e passo palavra de que me vou imediatamente, que nos reunimos lá fora. Estou no bengaleiro a levantar o meu casaco, e vejo-o olhando para mim, pela fresta da porta, ao passo que lá fora todos me aguardam, excepto dois que estão de volta de uma septuagenária, que era enfermeira mas ainda dava umas curvas. Cometo o erro de contar a minha história, e vou a ser gozado até ao aldeamento onde todos ficávamos. Chego a casa e afogo-me em cerveja Jupiler, até vir a fada madrinha dos meus sonhos segredar-me que está tudo bem. No dia a seguir vou para Bruxelas, para o aeroporto, e dois dos meus companheiros de casa, querem ir às putas antes de eu me ir de vez. Digo que sou contra putedos, e que são gajas superlativas, como eu nunca conheci até hoje, e eu respondo que já comi gajas melhores que as das revistas onde eles passaram a juventude a bater punhetas. No dia seguinte levo o carro, e pelas indicações deles, que me levam ao aeroporto, dou sem saber como, comigo no quarteirão da prostituição. Chamo-lhes nomes, e eles riem-se. Dá-me vontade de mijar e vou a um mictário público, normal para uma mãe e seu filho que passam por trás de mim às 9 da manhã, enquanto os meus companheiros de crime, fodem seres humanos femininos oriundos do hemisfério Sul. O avião é às 15, e depois de abraços e despedidas, fico sozinho a olhar para corpos pintados de laranja, na suposta zona das putas. Pobres diabos como eu, a fazer o possível para resolver a equação da nossa vida. Tenho tempo e vou de novo para o monumento aos soldados ‘neo-zelandeses’ em Quesnoy. Ao passear pelas muralhas, desabo finalmente em choro. Andava acumulado e foi catártico. De repente a sua filha de putice relativizara-se e nesse momento encontrei por acaso, a Francine, que nos vendia a cerveja no lado belga. Eu metera conversa com ela, e apesar da diferença de idades, ela achava-me graça, e em menos de nada estávamos a foder ao lado dos ratos de água que viviam naquela água verde. Francine era a típica descendente de alemães, com mamas grandes e que pedia ‘shnell’ quando se estava a vir. Satisfeita, puxou os seus leggings para cima e foi para casa. Fiquei exangue, a olhar a água verde e os patos, na paz de estar longe de casa, e de todos os motivos das minhas lágrimas, no novo mundo invertido por graça dos meus olhos ao nível da superfície da água que recebia a minha nuca no seu regaço, com o pescoço apoiado no lancil do monumento à morte de gente do outro lado do planeta, às mãos da velha França. Nem um «vou amar-te para sempre» ou «adoro-te». Apenas a sua satisfeita ausência. O bichinho ficara, estava mais em casa longe de Portugal, que no mesmo canto onde ela vivia sem mim. Os amores não morrem, já te disse. II Todos procuramos uma relação que nos arrebate por completo, como se por forças a que não conseguimos resistir, num desejo louco de verdade e Deus. Verdade porque já não precisamos de fingir que somos indivíduos com a ilusão de livre-arbítrio, Deus, porque amores assim provam que Deus, o destino a providência, o que seja, olham de forma pessoal para nós. Têm um plano, fazemos parte de algo. É suposto algo. Raramente acontece. Sabemos que deve existir, porque nos tempos dos amores juvenis, o corpo nos manda foder por via de sentimentos nobres. A carne do outro como fiel depositário de um futuro promissor em que ela ou ele são dádivas de Deus na nossa procura de sentido. O mundo é a nossa ostra. Tal e qual como numa esplanada à beira do Tejo, alguém decide apenas escolher olhar para o mundo com olhos positivos, enquanto crianças morrem de fome num qualquer canto desta orbe. Adoro malta que se lobotomiza assim, apenas porque está na moda, ou porque do mundo conhecem o que o seu umbigo sussurra. E depois querem que respeite a sua opinião como igual à minha. Foda-se. Hormonas e Cronos, são então os fios invisíveis da marioneta, que torna absoluto qualquer beijo entre lábios diferentes. Por isso, ou também por isso, as pessoas novas, têm geralmente, um certo asco aos corpos mais rodados em torno do Sol. Não é só a carne adiada de Inferno, é também a quase inexistente promessa de sentido. Que promessa de sentido e futuro pode haver numa pessoa gasta pelo passado, pelas mágoas de corações desfeitos? Em suma, pela falta de esperança e capacidade de acreditar? Não, meus amigos, não. É preciso estar-se vivo por dentro. E não enterrado décadas em relações de compensação, de onde não conseguimos sair porque cometemos o erro de nos apaixonar pelo nosso amor. E surge a pergunta: ‘- Porque não esperas tu pelo amor arrebatador que falas?’ Porque se esperasse ainda hoje pensaria que um broche é um alfinete de peito. Eu, nós, preferimos a segurança de um funeral em lume brando, que a paciência de acreditar no mito da alma gémea. Em ambas as posturas, a decisão do que fazer com o nosso tempo. Ela era daquele tipo de pessoas, demasiado focadas em evitar o sofrimento próprio. Por isso, a cada desgosto amoroso, polia e aperfeiçoava a sua personalidade, de acordo com o que achava ter sido a razão da ruptura. Que geralmente nestas lides, pouco tem a ver com o outro, mas com as nossas inseguranças. Se a tipa tem mamas pequenas, acha que é largada por isso, se tem mamas grandes e é complexada por tal, interpreta os acontecimentos de acordo com esse complexo em si. Interpretamos as coisas de acordo com aquilo que pensamos de nós. Esta, achava que era largada por ser neurotípica, ou melhor, por ter um feitio baunilha, que é aquele que 99% da população tem ou é, e 100% tenta demonstrar não ter ou ser. Ninguém, a não ser os que padecem do desespero, querem parceiros ‘normais’. Estáveis, constantes no esforço de não sair das fronteiras da segurança confortável. Que não agitam as águas, que no fundo não são movidos por nenhum demónio interno a não ser o de ver o mundo à mesma velocidade. Tudo tem de parecer um «prémio», um tesouro, mesmo a viagem aos golfinhos de Tenerife, cansados da repetição das «experiências especiais’, en masse. Fazia juras para dentro de si, que nunca mais seria largada por ser alguém sem sal, que não o era, mas achava que a largavam por isso. E portanto, ia-se esculpindo em torno da negação desse carácter, criando uma nova personagem, na direcção oposta. Ou seja, cada vez se tornava mais intragável, com a sua incapacidade de introspecção, circunspecção, e era demasiado opinativa, e segura das suas crenças por mais imbecis que fossem. Onde quer que estivesse, não estava, impunha…impunha a sua presença e um tratamento por parte dos outros, que lhe confirmasse o sucesso da sua pantomina. Tornara-se naquele tipo de pessoas com uma persona demasiado activa e assertiva, que vemos claramente como compensando um algo qualquer. Evitava a dor da rejeição, impondo aos outros um fingimento artificial de quem era na realidade. Também podia esconder quem realmente era, a ficção dá para tudo, mas havia sido abandonada antes, e portanto esta era a única forma de almejar ser apreciada por ser quem era, desempenhar a peça antídoto da rejeição. Penso ter percebido isso e foi esse o ângulo que ataquei, tratando-a da forma que achava que ela mais detestava, ora ignorando o seu voluntarismo forçado, ora tendo com ela um tom paternal. Era demasiado magrinha, e dava aulas de Matemática durante a semana, e fumava droga aos fins de semana. Conheci-a na venda de um recheio de herança, precisava vagar a casa para a vender, deixada por uma tia. Perdido a imaginar a tragédia dos objectos que ficam para trás, e com eles parte da memória do proprietário, sou por ela interpelado, aferindo se estava interessado em algo, que teria de comprar o lote todo. Gozei dizendo que é como as pessoas, que não ficamos apenas com o que gostamos. Mordia-me ser rejeitado, mesmo por uma magrinha que em nada me atraía e por quem teria de ludibriar a minha pila para ter a rigidez suficiente para consumar o acto. Mas a frio, e com o vento da A1 fresco na minha cara, dei comigo a pensar claramente, que ninguém é rejeitado seja por quem for. Somos uns para os outros, não mais que reflexos na caverna platónica, capturados em corpos de perecível carbono que nos faz exprimir o quer que sejamos através de carne e palavras. E quão atabalhoados somos a exprimir o que vai cá dentro para o mundo. Como o escritor que escarafuncha o papel branco, à procura de dar forma ao que pretende passar a outro, o que tem a dizer, sempre por palavras que o deixam insatisfeito pela infidelidade. Como o inventor que formula uma ideia que sai grotesca a início, ainda que funcionando parcamente. Como dois amantes que parecem não acertar nas frases que dizem um ao outro. A magrinha nem me encara bem nos olhos, prometera café, e dava por cumprida a sua palavra. Estava à espera de algo melhor, ela e eu. Apenas uma cara de desagrado na esperança de que eu me vá rápido embora. Não fumarei droga com ela, ou concordarei com os signos do horóscopo. É bonita a expressão ‘engate’, transmite uma sincronia mitigada, funcional na aproximação dos corpos. Não, nós não somos rejeitados, quando muito é a nossa condição que é rejeitada. Os mansos e os plácidos, os viciados em aprovação. Não és rejeitada quando as mamas começam a olhar tristemente o chão. Estás enganada. Não é o âmago de quem és que é rejeitado. É o teu aspecto físico com o qual não te deves confundir, por mais conveniente que te seja. Não és tu que és expulso da vida de outros, quando te perdem o respeito e te trocam por outro. O que é rejeitado, são as atabalhoadas expressões desse algo que te vai dentro, pela curteza de vista de quem te avalia. Sombras avaliando sombras, figuras deformadas julgando outras figuras deformadas, com um fogo que lhes dá vida espalmando-as na parede. Quantas vezes não nos sentimos fora de casa com alguém, como se fosse suposto estar noutro lado? Quantas vezes caímos fora de tempo, de jeito, como se a impressão de nós que lemos na cara e olhos dos outros, não correspondesse de todo a quem somos? A nossa impressão, absorvida como uma imagem deformada pelo olhar de um ébrio, pelo olhar de outros limitados pela sua própria individualidade. Auto-regulamo-nos, afinal, mantemo-nos nas faixas de rodagem, presos ao que achamos que os outros pensam de nós, mas por vezes, quando observamos as nuvens passando rápido no céu da noite, vemos o cabelo de Deus, à espera que oremos com a nossa atenção. III Não, os amores não morrem. São enterrados vivos com a terra do nosso desprezo. Matamo-los, para nós podermos sobreviver. Ela dizia-me que finda a coisa, cortava rente qualquer memória. E eu rejeito totalmente essa ideia. Acho que há sempre algo a dizer, nem que seja uma erupção de vai para o caralho puta de merda que me fizeste chorar noites a fio em torno de um buraco de desespero no meu peito. Há sempre algo para dizer. Sempre. Mas se calhar é melhor assim, que nos ignoremos até à podridão da nossa carne enterrada, pois as potenciais conversas encerrariam censuras, recriminações e alívio da dor causada, ou satisfação do lado que largou, por saber que o amor do outro por si, é prova de que se é algo de fantástico. Sim, ainda gosto de ti, és muita boa, sabes? Fantástico, leva o amendoim. Sabes porque te custa menos a ti, puta de merda? Não é porque és adulta, ou emocionalmente regrada. É porque a Natureza forjou os gajos desde as cavernas, a idealizarem a gaja que tem o útero. Para se meterem à frente das presas do predador para poupar a potencial grávida. E as gajas, programadas a esquecer facilmente o recém-falecido, por via de predadores ou de tribos inimigas que quase sempre poupam os úteros. O complexo war brides, ou outra merda desse género. Era isto que eu dizia, enquanto ela descansava satisfeita por me ter feito vir, e por saber que o seu corpo me dava tesão. Eu aproveitava a bebedeira de oxitocina para deixar sair tudo, tudo o que me fazia lastro. Não és tu que és especial, desculpa. Tens é menos capacidade de amar idealmente. Para cada pintor que arranca uma orelha, escritor que escreve uma epopeia, ou rei que constrói um mausoléu, há só uma Florbela Espanca. Romeu e Julieta mortos por veneno comum, só na cabeça de Shakespeare. É raro o grau de compromisso total, na maior parte das mulheres. Não é porque são más, ou frias. É apenas porque a mão do titereiro assim o quer. Ela pergunta-me se é possível, a intensidade de amor, que relato nos meus textos. Eu respondo que é, mas não para ti coração. Só os homens amam idealmente. Desculpa. Nem todos, mas boa parte deles. Desculpa. Sei que te custa ouvir, mas objectivamente, se o tigre te aparecesse à frente, deixavas que consumisse o tipo. Eu sei, eu compreendo, eu aceito. Eu teria morrido por ti, e por isso me achaste papalvo. E agora dizes às amigas que queres alguém que te ame incondicionalmente. Bem que podias ir comer no cu, não achas? Sente a minha picha murchar dentro dela. Acha que é por ela. Interpreta as suas maiores fraquezas nos meus olhos, ou na minha pila. Claro que a pila não tem direito a estar cansada após uma hora de rigidez. Que caralho somos, senão robots? Senão bichos avaliados a partir da ficção de um blogue, proibidos de ser quem são sob pena de desiludirem, ou de serem quem não são, sob pena de serem tomados como fraude? Ó puta, eu existo além do limiar da tua desaprovação, que faz por tomar o extraordinário como corriqueiro, e o corriqueiro como extraordinário. Sem que algum valor real esteja associado ao quid em questão. Abocanha-me a pila, para depois me lançar à cara que não lhe faço minetes. E não faço, se pedires, podes ter a certeza que não faço. É tudo uma questão de poder para estas putas. Impedem-nos de amar o quer que seja, porque estão sempre de atalaia no que concerne a quem fica em suspenso de quem. É para elas mais importante quem manda, que quem. Estas putas não sabem amar, apenas preservar o seu mundo ilusório de controlo. O epitáfio de um amor perdido nos lençóis do tempo, algures entra as aguarelas que sonhámos como justificando o tempo entre a nossa morte e nascimento. E ela contando a nossa história às amigas, como se não passássemos de uma paragem onde o seu autocarro parou para algum destino mais digno. Como se de um brilho súbito observado no Céu de Verão, que sabemos ser algum testemunho do passado. Os pés dela batiam-me na cara ao ritmo com que lhe perfurava com estocadas penianas, o baixo-ventre. Pela minha mente apenas passava a ideia de que isto era uma guerra civil. Olhava para o seu rosto, de lado porque a comia de costas, e não conseguia deixar de ver o rosto do seu pai, que me mostrara num álbum prévio, que geralmente as gajas mostram como forma de criar ligação emocional com os detentores de pila prestes a usá-la, nelas. Basicamente, e reza a história, dei comigo a ver os traços masculinos do seu rosto, que me lembravam o progenitor, e a pensar que estava a comer res extensa nascida mulher. Não um ser de natureza diametralmente oposta à minha, repetidamente feita para me magoar, mas uma tonta em avulso, flagelada com os mesmos defeitos que o tonto eu. Não é nada pessoal, são palonças porque as elevamos em demasiada estima. Desmistificando a gaja, deixamos de exigir dela que seja divina. E sai uma palmada na nádega. A transpiração caía em bica pelo meu rosto abaixo, e o pensar na ideia de ver a cara do pai com feições femininas retirara o foco de a fazer vir a ela ou esporrar-me eu todo. E subitamente, uma aflição moral me aflige, a expressão ‘dormir com o inimigo’, e a aflição de as julgar de forma demasiado bruta e egocêntrica, isto é, baseada no impacto negativo que algumas tiveram em mim. Que a maldade e estupidez no outro, são pouco mais que falhas de carácter, que a maioria esconde, para gerir a imagem aos olhos dos outros. Todos somos filhos da puta inconscientes e cegos na nossa consciência, que trabalha incessantemente, para nos ludibriar no que concerne à origem das nossas intenções, quando agimos. A decisão é tomada, assumida, e depois o ego trata de encontrar a história, o ângulo, onde na narrativa que contamos para nós à noite, ao travesseiro, as decisões são sempre as melhores, com as melhores intenções, e como todos sabemos, delas está o Inferno cheio. Tenho eu andado a dormir com o inimigo, isto é, tenho eu negado a individualidade delas, apenas para me proteger? Encarando-as como uma contraparte que se contrapõe a mim, aos meus interesses, estarei a vedar-me à verdadeira intimidade com outrem? Murcho, e ela vira-se para mim, como que magoada por eu ter perdido a tesão que dura há cerca de meia hora. Resquícios do que os conas chamam de ‘masculinidade tóxica’, onde um gajo é olhado de soslaio se a pila se farta de reter sangue para prazer da contraparte. Abraço-a e faço-lhe festas no rosto, e continuo a perseguir a minha ideia. Não só são tão determinadas biologicamente como nós, como parecem ter menor consciência das raízes profundas dessa determinação. Valha-nos Deus, se trazemos alguma ciência à mítica ‘mística feminina’. Prestidigitações que visam mistificar com tinta de choco. Está investida em mim, e tenta-me agradar com coreografias aprendidas em outros teatros, belisca-me os mamilos, que detesto, porque algures no seu passado, algum parceiro gostou ou pediu. Pelas palavras, reacções e posturas, percebemos o grau de mágoa que tentam esconder. Pela tentativa de controlar a forma como a vejo, pela personagem proactiva que desempenha para dar a ideia que tem uma personalidade forte, também ela testemunha para mim, que dorme com o inimigo, com um representante de outros que a magoaram. E protege-se com contramedidas que visam evitar o torpedo no casco. Todos dormimos com o inimigo. Por medo, ou controlo, o que é o mesmo. Ninguém passa cheques em branco. Todos reagimos ao comportamento contrário, por trauma, cansaço, ou vingança serôdia e estúpida. Abotoa-se a mim, e sorve-me o falo, e continua a apertar-me o mamilo com o braço esticado. Ela esquecera-se de mim. Andámos na mesma faculdade, e rejeitou-me numa abordagem minha há 20 e tal anos. Estava a principiar a carreira de actriz, e envolver-se com um neurotípico, parecia-lhe uma regressão. Tinha de manter os dentes brancos e o hálito fresco, por desempenhar papeis em novelas que requeriam trocas bocais com outros actores, com a língua a servir de cartão de visita, e o beijo reduzido a um simulacro mecânico de afecto. Dormir com o inimigo, foda-se. Mas eu sei, de certeza absoluta e comprovada, que estas gajas deixam de nos respeitar, se as queremos tratar como seres humanos, e não como o ‘inimigo’. E não nos respeitando, são incapazes de nos amar, de nos ver com valor, na igual medida em que um corpo decaído já não permite desejo saudável. E assim aconteceu com ela no mundo madrasto das novelas. Não tendo ascendido a estrela, foi obtendo cada vez menos trabalho. Teve de começar a trabalhar em escritórios da metrópole, e como ninguém se prestou a ficar com ela, afogava cada vez mais as mágoas, em cada vez mais vinho. Eu estava a mudar o pneu do carro, que mo furaram em frente a uma tasca. Aposto que foi o filho da puta do dono, que considera o lugar de estacionamento público como seu. A troca de pneu durou mais tempo, porque o carro não era meu, o macaco estava enferrujado, a tal ponto que o parti, exercendo força de braços nele. Da esplanada vieram-me ajudar uns sexagenários, provavelmente aqueles que me furaram o pneu. Logo avisando para não me demorar com o macaco emprestado, que estavam prestes a ir-se embora. Perante a minha atrapalhação, perguntaram-me se eu alguma vez mudara um pneu. Fiquei ofendido por dentro, mas ri-me. Ter pipo de cerveja também não ajudou à destreza. Preferi pensar na diferença geracional entre estes que me ajudavam a resolver um problema, e a geração mais nova que passava por mim, sem que ocorresse algum pensamento de camaradagem. Não que eu precisasse. Mas a predisposição para a acção, impressionou-me. Esta malta mais velha, com mais fibra, construiu o Portugal que originou por fim, os conas e os bananas. É a queda do império. Um parafuso escorreu pela rua inclinada, e uns sapatos vermelhos de mulher, apararam a fuga. Era ela, e não me reconheceu. Fiz por manter a conversa e 5 dias depois estava a deixar a minha mão marcada nas suas nádegas. Olho para ela inserido numa longa fila de flirts e amores infelizes, e não consigo pensar que estamos em guerra civil. Divididos pelas dores lancinantes decorrentes do mercado da carne. Geração após geração, a foder-nos uns aos outros. E a nós próprios. |
Viúvas:Arquivos:
Junho 2024
Tori Amos - Professional Widow (Remix) (Official Music Video) from the album 'Boys For Pele' (1996) - todos os direitos reservados:
|